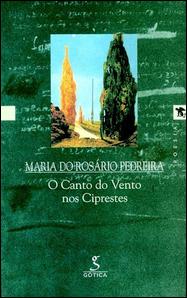16-6-2001
MARIA DO
ROSÁRIO PEDREIRA
| |
|
M. Rosário Pedreira - escritora
É poeta,
ficcionista, também na área da literatura juvenil. Maria do Rosário
Pedreira (n. 1959) desempenha ainda as funções de editora na Temas e
Debates. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de
Estudos Franceses e Ingleses, pela Universidade Clássica de Lisboa
(1981), foi também professora de Português e Francês (durante cinco
anos), actividade que a influenciou decisivamente no sentido do assumir
de uma escrita para um público jovem. Trabalhou como coordenadora dos
serviços editoriais da Gradiva, foi directora de publicações da
Sociedade Portugal-Frankurt 97 e editora dos catálogos oficiais
temáticos da Expo'98, tal como redactora das brochuras inerentes aos
Festivais dos Cem Dias e Mergulho no Futuro, promovidos durante a
Expo'98. O seu romance Alguns Homens, Duas Mulheres e Eu constrói-se na
vertigem de uma identidade perdida. Enquanto poeta publicou
A Casa e o
Cheiro dos Livros (1996), recentemente reeditado pela Gótica,
O Canto do
Vento nos Ciprestes (2001) e agora Nenhum Nome Depois.
ANA
MARQUES GASTÃO
|
|
|
LINKS:
O
Ser Suspenso: sobre António Ramos Rosa e Maria do Rosário Pedreira
Rui Magalhães
Nota crítica de Maria
João Cantinho sobre "O Canto do Vento nos Ciprestes"
Pode ver um
dossier e uma entrevista da autora
aqui
NENHUM NOME DEPOIS
| |
As raparigas amam muito. Riem
atrás das mãos uma manhã inteira
para esconder o vermelho dos
beijos que alguém lhes roubou e
um nome que vão deixar escapar
entre as primeiras palavras que
disserem. Vestem do avesso os
aventais de chita e fazem o leite
sobrar do fervedor e o caldo ser
mais salgado do que o mar. Mas
é bonito vê-las caminhar descalças
ao longo do corredor, como se
pedissem um par para dançar. As
raparigas
amam tanto. Sentam-se
em rodas de segredos uma tarde
inteira e esquecem no tanque os
colarinhos sujos das camisas, e os
cueiros, e uma barra de sabão a
|
|
|
|
| |
derreter-se como o seu coração.
Mas é bonito vê-las beijar a boca
ao espelho no quarto das traseiras
e também a outra boca no retrato
que a seguir escondem amordaçado
na algibeira, não lhes cobice alguém
o que não tem. As raparigas amam
de mais. Deixam-se ficar sem dizer
nada uma noite inteira, bordando
no linho dos enxovais letras secretas
ao calor do fogão. E picam os dedos
distraídos nas agulhas que usaram
para descobrir o sexo de cada filho
que terão num jogo que jogaram
entre elas à tardinha. Mas é bonito
vê-las ao serão, quando o vento as
chama atrevido da cozinha e dão
um pulo seco na cadeira, e largam o
bordado e a lareira, e correm até à
porta a colher beijos que lhes deixam
risos nos lábios tão vermelhos como
as mais doces cerejas deste verão.
(págs. 50-51)
“Nenhum
nome depois", edição da Gótica, 74 pág., 11 €, Fevereiro de 2004. ISBN
972-792-101-9 |
|
|
|

3 de Março de
2004
A FICHA
Nenhum Nome Depois
Autor.
M. Rosário
Pedreira
Editora.
Gótica
Páginas.
76
Género.
Poesia
Preço.
e 11,00
Classificação.
****
Amando o
amor num crescendo romanesco
ANA MARQUES
GASTÃO
Muito
mais numerosas na história da poesia amorosa são as páginas de lamento - que
abordam o ser na perspectiva da separação - do que as de júbilo, embora o amor
triunfante possa ter tido, ao longo dos tempos, textos decisivos. Maria do
Rosário Pedreira seguiu esse caminho, desde o belíssimo A Casa e O Cheiro dos
Livros (1996) ao não menos conseguido O Canto do Vento nos Ciprestes
(2001). Acaba agora de publicar Nenhum Nome Depois (2004).
Não entrando em ruptura com o passado - o que pode constituir um risco -,
exprime-se, neste livro, uma forma de afectividade desmesurada perante a
impossibilidade de fruição do amor como «sensação de tudo», na acepção hegeliana.
É da antecipação da morte, a do sentimento como possibilidade ontológica, que
fala o sujeito poético, na consciência de uma perda, da ausência, do abandono,
da memória do que outrora foi desejado e hoje se configura como obstáculo. Não
se trata apenas da edificação de acontecimentos psicológicos no plano das
palavras, mas de uma tentativa de assumir a descontinuidade do fulgor e de viver
a linguagem como experiência amorosa e poética fundamentais.
O livro de Maria do Rosário Pedreira constitui-se com um quarteto, dividido em
Os Nomes Inúteis, Os Nomes Interditos, Os Nomes de Família
e Nenhum Nome Depois. Um nome ou uma voz podem expressar-se em diferentes
tempos e espaços, mas nesta obra dir-se-iam a causa de uma (im)permanência, a da
sua significação, a de uma queda que não é contorno ou substância, mas função de
uma existência do sujeito poético abalado pela catástrofe. Mais do que tudo
ama-se o amor num crescendo romanesco.
Os nomes são marcas arbitrárias com as quais nos fazemos entender perante os
outros; pontos de referência no fluir do pensamento. Em geral, podem ser
compreendidos como signos ou em função das ideias que designam.
Assim, na paisagem deste livro, vamos encontrando a inutilidade de um nome:
inútil nomear o que não permanece e se esvai: «Ninguém esquece um corpo que
teve/nos braços um segundo - um nome sim.» Virá depois o nome interdito: o
nosso, o de um destino baço, e aquele que não é reconhecível: «(...) limito-me a
adivinhar um nome para o que não sinto e/recuso-me a acreditar que seja o teu».
Surgirá ainda o nome de família, de que somos herdeiros, e o do pai morto, ou da
mãe viva.
O último capítulo, Nenhum Nome Depois, atravessa o livro no registo da
ausência, do temor da morte («Quis-te/ainda quando a morte era já uma/
transparência, lente invisível para o/escândalo»), na junção dos desamparos. É
solitário o amor, porque incomunicável e amar dir-se-ia uma dinâmica
desconcertante, vertigem de identidade e de palavras. Daí a importância do que é
ou não nomeável.
Menos contido do que as obras anteriores, este conjunto de poemas persiste em
revelar a autora como um nome relevante da sua geração. A escrita de Maria do
Rosário Pedreira aproxima-nos, na sua atenção ao mínimo, concreticidade tão
feminina, de uma fragilidade emergente perante a instabilidade do Eu. Nessa
revolução súbita com a qual o sujeito poético se confronta, vai reconstruindo o
mundo. A ideia de amor é, para Agamben, «viver na intimidade de um ser estranho,
longínquo e mesmo imperceptível, de tal forma que o seu nome o contenha
inteiramente.» O amor, neste livro, revela-se como desejo e mal. Até que a
voragem do vento o apague no cansaço da dor.

Todos Os
Nomes do Amor
PÚBLICO, Sábado, 03
de Abril de 2004
Fernando Pinto do Amaral
É
quase sempre difícil e arriscado escrever poesia de amor. Sendo o género mais
praticado desde a adolescência - e por isso presente na produção juvenil de
muitos poetas - , o lirismo amoroso costuma implicar alguns perigos tanto ao
nível de uma certa monotonia temática (encontros e desencontros, desejos
impossíveis ou concretizados, etc.) como no campo da própria linguagem,
geralmente algo codificada e por vezes sujeita aos habituais lugares-comuns
eróticos e sentimentais.
É
por causa destes riscos que se torna mais grato saudar a publicação do último
livro de poemas de Maria do Rosário Pedreira (n. 1959), que escapa bem a tais
armadilhas e se dá a ler como uma bela colectânea de textos em que o amor
ultrapassa a dimensão mais óbvia, servindo quase sempre de ponto de partida para
um conhecimento do enigma que o move, nesse infinito labirinto de relações
humanas a que só o amor pode conferir alguma hipótese de sentido.
Revelada em 1996 com "A Casa e o Cheiro dos Livros" e prosseguida em 2001 com "O
Canto do Vento nos Ciprestes", a poesia de Maria do Rosário Pedreira tem-se
distinguido por um tom profundamente intimista, feito de palavras para repetir
em voz baixa, segredadas em confidências cujos destinatários se pressentem a
cada instante, através de pequenos sinais dispersos pelo tempo e pelo espaço das
memórias que um dia lhes deram plena substância, e cujo fulgor persiste sempre,
como uma cicatriz que ainda pode doer quando lhe tocamos: "Entre nós há uma
ferida que já não / sangra, mas não sara - um amor / que perdura e está perdido"
(p. 33).
Envolvendo sempre, em maior ou menor grau, uma ideia do amor como ferida sem
cura, este livro oferece-nos quatro possíveis declinações para essa dor,
agrupadas segundo os nomes que as originaram: começaria por destacar a sequência
"Os Nomes de Família", facilmente distinguível das restantes, na medida em que
remete para lembranças bebidas no núcleo familiar e condensadas em poemas
situados em cenários de infância ou sobretudo adolescência, evocações da mãe,
dos avós e de outras figuras tutelares às quais os textos se dirigem como se
assim procurassem saldar uma dívida antiga, recuperando os elos que ligam
gerações portadoras do mesmo nome: "porque há sempre perdão para / quem tem o
nosso sangue, o nosso nome" (p. 55). Desta atitude é também exemplo um poema
endereçado à memória de um pai com quem só é possível falar durante os sonhos:
"Pai, dizem-me que ainda te chamo, às vezes, durante /o sono - a ausência não te
apaga como a bruma /sossega, ao entardecer, o gume das esquinas. Há nos /meus
sonhos um território suspenso de toda a dor, / [...] //Aí nos encontramos, para
dizermos um ao outro aquilo/que pensámos ter, afinal, a vida toda para dizer; aí
te/chamo, quando a luz me cega na lâmina do mar, com/lábios que se movem como
serpentes, mas sem nenhum/ruído que envenene as palavras: pai, pai" (p. 41).
Mas
este livro não vive apenas dos apelos do sangue, inscritos à superfície do seu
DNA. O amor que aqui predomina e mais nos interpela provém da força da paixão,
dos efeitos luminosos e por vezes devastadores dessa energia que tudo consome,
do fogo que em nós arde quando amamos alguém e corresponde a um "incêndio capaz
de devorar o coração do mundo" (p. 13). Se nos aproximarmos para averiguar de
que género de incêndio se trata, verificaremos que a primeira e a última parte
deste conjunto dizem respeito a sentimentos cuja densidade se concentra em
ambientes de alguma solidão - "São tantos os anos sem ti nos vincos/da minha
saia" (p. 19) - em que o "eu" se apercebe de um fogo que não chegou a arder, num
clima de desencanto ou frustração marcado por uma galeria de "nomes inúteis" ou
de seres sem nome: "Não, prefiro não saber como te chamas" (p. 15).
Esta
mesma atmosfera pode ainda projectar-se num espaço interior quase póstumo, em
que a consciência amorosa subsiste, acima de tudo, como um incómodo fantasma ou
serena recordação - "Já só consigo saber de ti pelos/jornais" (p. 64). É o que
sucede ao longo do último ciclo - "Nenhum Nome Depois" - , quando o incêndio já
ardeu e foi deixando em seu lugar uma paisagem calcinada de brasas ainda quentes
ou de cinzas pouco a pouco mais frias, sob a acção do tempo que tende a apagar
os nomes de quem amámos: "Deixei cair o tempo sobre o teu nome,/como se deita o
mármore sobre a terra e/a água se derrama sobre as brasas [...] //e vi/o sangue
calar-se finalmente sobre a ferida,/[...]/E a casa está hoje mais fria do
que//nunca: deixei passar o tempo sobre o teu/nome e não há lareira, não há lar,
não há/filhos que se pudessem perder de mim, nem/velas para encher de memória
este silêncio" (p.70).
Guardei propositadamente para o fim a sequência talvez mais intensa de todo este
livro, sintomaticamente intitulada "Os Nomes Interditos". O que aí está em jogo
equivale a uma espécie de emoção-limite, por vezes próxima dessa certeza
absoluta capaz de iluminar o caminho de quem se entrega ao abismo do amor,
assumindo-o sem alternativa - "ambos descobríramos que o/destino nunca se engana
no nosso nome" (p. 35) - e absorvendo essa experiência a dois até à última gota,
como se pudesse desvanecer-se no minuto seguinte: "Eu sabia que adormecer//era
deixar de sentir, e não queria perder os/teus gestos no meu corpo um segundo que
fosse" (p. 28). Perante isto, acrescentaria apenas que a dimensão do ciúme se
torna em certos momentos quase insuportável, pairando sobre uma relação amorosa
que se sabe condenada à mentira e mesmo assim prefere continuar, entretecida
numa sombra ou no secreto reverso desse terceiro nome que nunca chegará a ser
dito:
"Os
seus vestidos pretos fechados/no armário lançam uma sombra/funesta nos meus
dias. A sua voz/eterna na fita do telefone é outro/espinho cravado no meu
silêncio./Roubei-lhe, sem saber, todas as//palavras que te disse - porque,/num
beijo meu, são ainda os seus/lábios que procuras, é dela o corpo/que abraças
quando me abraças.//Se adormecer ao teu lado mais/esta noite, sei que os seus
olhos/hão-de pousar gelados nas minhas/pálpebras [...]//[...] e,
entretanto,/basta que me mintas, sim, mente,/mas nunca me digas o seu nome" (pp.
30/31).
mAGAZINE
artes
n.º
16, Março de 2004
NENHUM NOME DEPOIS
A
poesia imensa de Maria do Rosário Pedreira
R.L.
Maria do Rosário Pedreira volta à edição com “Nenhum Nome Depois”. Regressam os
versos e os poemas impregnados de uma dor que é também lugar de confluência do
belo e da palavra iluminada.
Tendo publicado vai para três anos o seu anterior e fulgurante livro de poemas a
que chamou “O Canto do Vento nos Ciprestes”, livro bem recebido pela crítica,
Maria do Rosário Pedreira, escritora, poetisa e editora, reincide agora com a
edição deste “Nenhum Nome Depois”, em edição da Gótica. Malgrado seja ainda algo
reduzida a sua “obra poética” (que se resume a quatro títulos até ao momento),
acode-nos de imediato a certeza de reencontrarmos aqui uma voz poética
pessoalíssima e de enorme ímpeto emocional. É na verdade de uma magnífica
enunciação dos afectos, do viver e do morrer, do silenciar e do gritar, do
sorrir e do chorar, do amar e do perder, que estes poemas nos falam. Tudo
porque, dizer, lembrar, nomear, é bem melhor do que proibir, guardar, esconder,
sobretudo porque “a vida nunca foi só Inverno/nunca foi só bruma e desamparo”.
Há
nos poemas de MRP uma narratividade implícita, um desfiar de memórias e afectos
que faz com que o poema se institua como uma muito breve ficção, íntima, aberta
em sentimentos, confessional, pulsando emoções, mas nunca frívola, banal ou
melodramática:”
Mãe,
agora que guardaste na arca
as
blusas pretas e os teus olhos
voltaram a ser azuis; que os meus
irmãos dormem no seu quarto um
sono
de poderem ser felizes, que
já
conseguimos dizer uma à outra
o
nome dele no meio de um sorriso
porque a morte, afinal, é uma coisa
tão
longe – deixa-me perguntar-te
porque não há retratos do meu pai
comigo ao colo, como os dos meus
irmãos que ele trazia sempre junto
ao
peito e tu depois dividiste pela
casa
para ele poder saber que ainda
te
lembravas; ou então debruçado
no
meu berço – que tu escondeste
no
sótão ainda eu era pequena e te
sentavas a embalar vazio quando ele
não
entendia porque estavas tão
triste. Mãe, eram tão azuis os olhos
do
meu pai no dia em que levou os
meus
irmãos à escola e tinham tanto
medo
do que pudesse acontecer-lhes;
são
tão azuis também os olhos deles
debaixo do seu sono, e os meus tão
negros de dúvidas – porque foste
sempre tu que me levaste sozinha
para
as coisas difíceis da minha vida,
que
o meu pai nem nunca quis saber
que
coisas eram. Mãe, estão hoje tão
azuis os teus olhos com essas roupas
claras, e eu ainda tenho o nome do
meu
pai entre as minhas lágrimas, mas
agora, que os meus irmãos descansam
no
seu quarto, que já todos podemos
dizer o nome dele sem nos cortar os
lábios, diz-me a verdade: esse homem
que
chorámos era mesmo meu pai? (págs. 42-43)
A
casa (ou as casas), neste como nos seus livros anteriores, volta a ser um local
de regresso, epicentro de um descobrir da vida para sempre perdido na dor imensa
da irreversibilidade do tempo.
Que
guardarão para mim as casas que
deixei? O pó sobre o meu nome? (pág. 39)
pergunta a autora antecipando um rememorar de lugares, cheiros, objectos,
conversas perdidas entre as sombras. Encontraremos nesse regresso ao lugar da
“felicidade” perdida escolhos e traços de uma tragicidade latente, por vezes
lancinante e incómoda como no poema que assim começa:
Mãe,
os meninos andam distraídos junto
ao
rio e tu não queres saber de os perder.
Sentaste-te a pensar nesse homem que
apareceu e a desfolhar os malmequeres
da
tua bata nova – e não viste que te
largaram a mão nem para onde fugiram
com
a pressa do vento. Mãe, os meninos
………………………………………………………………..” (pág. 44)
É
também uma escrita que prescinde do hermetismo (mal de que sofre muita poesia
contemporânea),
(e)levando a cristalinidade dos afectos a níveis altíssimos:
Agora há uma dor que pousa nas palavras.
Não
as digas – um nome basta para
dividir o coração. Se me esqueceste entre
um
livro e outro, finge que não sei; despede-te
de
mim como uma lâmpada antiga, deixa que
a
tua sombra seja a minha única paisagem. (pág. 26)
Como
se observa, MRP escreve a favor do leitor, nunca contra ele, nunca contra as
palavras.
Poemas de saudades e poemas de adeus, de um acertar contas com o tempo. São
poemas de lembrar, de olhar para trás e lembrar os nomes, os “inúteis”, os
“interditos”, os de “família”, e também os outros, os outros nomes que não
existem “depois de ti”. Assim se lêem, põe entre uma dor pressentida, poemas tão
belos e desmesurados como este:
Onde
quer que o encontres
escrito, rasgado ou desenhado:
na
areia, no papel, na casca de
uma
árvore, na pele de um muro,
no
ar que atravessar de repente
a
tua voz, na terra apodrecida
sobre o meu corpo – é teu,
para
sempre, o meu nome. (pág. 52)
Ou
assim:
Lê,
estes são os nomes das coisas que
deixaste – eu, livros, o teu perfume
espalhado pelo quarto; sonhos pela
metade e dor em dobro, beijos por
todo
o corpo como cortes profundos
que
nunca vão sarar; ……………………… (pág. 66)

O CANTO DO VENTO NOS
CIPRESTES
| |
|
Mãe,
eu quero ir-me embora – a vida não é nada
daquilo
que disseste quando os meus seios começaram
a
crescer. O amor foi tão parco, a solidão tão grande,
murcharam
tão depressa as rosas que me deram –
se
é que me deram flores, já não tenho a certeza, mas tu
deves
lembrar-te porque disseste que isso ia acontecer.
Mãe,
eu quero ir-me embora – os meus sonhos estão
cheios
de pedras e de terra; e, quando fecho os olhos,
só
vejo uns olhos parados no meu rosto e nada mais
que
a escuridão por cima. Ainda por cima, matei todos
os
sonhos que tiveste para mim – tenho a casa vazia,
deitei-me
com mais homens do que aqueles que amei
e
o que amei de verdade nunca acordou comigo.
Mãe,
eu quero ir-me embora – nenhum sorriso abre
caminho
no meu rosto e os beijos azedam na minha boca.
Tu
sabes que não gosto de deixar-te sozinha, mas desta vez
não
chames pelo meu nome, não me peças que fique –
as
lágrimas impedem-me de caminhar e eu tenho de ir-me
embora,
tu sabes, a tinta com que escrevo é o sangue
de
uma ferida que se foi encostando ao meu peito como
uma
cama se afeiçoa a um corpo que vai vendo crescer.
Mãe,
eu vou-me embora – esperei a vida inteira por quem
nunca
me amou e perdi tudo, até o medo de morrer. A esta
hora
as ruas estão desertas e as janelas convidam à viagem.
Para
ficar, bastava-me uma voz que me chamasse, mas
essa
voz, tu sabes, não é a tua – a última canção sobre
o
meu corpo já foi há muito tempo e desde então os dias
foram
sempre tão compridos, e o amor tão parco, e a solidão
tão
grande, e as rosas que disseste um dia que chegariam
virão
já amanhã, mas desta vez, tu sabes, não as verei murchar.
De
"O Canto do Vento nos Ciprestes", Gótica, 2001, 80
pags.
|
|
|
|
Nostalgia
e amores perfeitos
Um
terceiro livro de belos poemas de amor, a confirmar a grande
qualidade de uma autora discreta
Começa
este livro com um poema - «A Criação do Mundo» - inaugurando-se
com um acto demiúrgico a invocar o Génesis: «Olhou as mãos em
concha e viu arredondar-se/ um sonho dentro delas - um mundo/ que
ninguém podia adivinhar, pois dele/ fariam também parte os magos e
os profetas.// Abriu-as devagar e deixou cair as trevas como
sementes,/ para que então servissem unicamente de sombras/ e
prolongassem a memória das coisas por vir. Foi assim/ que inventou
a luz e separou um dia do seguinte./...» (pág. 9). Trata-se porém
de uma criação à medida da efemeridade humana, da pouca resistência
das coisas: «...sentiu que o seu/ mundo era tão frágil que, se
desviasse os olhos, tudo acabaria/ por regressar ao pó, às trevas
e ao verbo. Só por isso criou alguém/ que também o visse e lhe
dissesse todos os dias como era belo» (pág. 10).
Encontra-se
aqui uma espécie de programa para orientar a leitura dos restantes
versos, mudando-se o poema em mapa da «primeira geografia dos
caminhos» abertos a cada novo título. O mundo é ainda mais
pequeno que as mãos em concha - inscreve-se entre as folhas do
livro, vai-se construindo poema a poema - e depois ultrapassa-os
enchendo o vasto da imaginação possível a cada um. Tem por
habitantes um «eu» sempre só que se dirige a um «tu» sempre
ausente ou na eminência de chegar: «O meu mundo tem estado à tua
espera; mas/ não há flores nas jarras, nem velas sobre a mesa/ nem
retratos escondidos no fundo das gavetas. Sei/ que um poema se
escreveria entre nós dois; mas/...» (pág. 13). Mas. A adversativa
insistente e reiterada a puxar para o real, para o racional, para o
argumento oposto à conjectura do desejo. Porque são muito
concretas as situações descritas - bem à semelhança do livro
anterior da autora, A Casa e o Cheiro dos Livros (Quetzal, 1996) -
ligadas ao mundo pelos gestos e pelas coisas do quotidiano, que a
incerteza e inquietação próprias da expectativa vão colorir de
nostalgia e sombra.
O Canto do Vento nos Ciprestes são poemas de amor(es) transformado em poema. De amores
tão perfeitos e variegados como as pequenas flores que recebem tal
nome. E Maria do Rosário Pedreira correu um enorme risco - porque
os poemas de amor estão fora de moda e facilmente se tornam ridículos.
Mas. Sai vencedora voando por cima das armadilhas do
confessionalismo primário, seja pelo recurso à estratégia do diálogo
sem resposta que nalguns casos se assume como monólogo dramático,
seja porque o «tu» de um dado poema se insinua como podendo não
ser o mesmo do seguinte
E
diz: «Se terminar este poema, partirás. Depois da/ mordedura vã
do meu silêncio e das pedras/ que te atirei ao coração, a poesia
é a última/ coincidência que nos une. Enquanto escrevo/...» e
adiante: «Mas agora pedes-me que pare, que fique por aqui,/ que
apenas escreva até ao fim mais esta página/...» Ironicamente, a
responsabilidade da permanência do encontro é transferida para o
acto de escrita, para as palavras do verso, para o momento do «verbo»
que lhe dá, em simultâneo, a dimensão perversa da separação própria
do dilema amoroso: «em qualquer caso: se terminar o poema, partirás;/
e, no entanto, se o interromper, desvanecer-se-á/ a última coincidência
que nos une» (pág. 27). Por sua vez, também a escrita se vem a
revelar como demasiado estreita: «O meu amor não cabe num poema -
há coisas assim,/ que não se rendem à geometria deste
mundo;/...// O meu amor é maior que as palavras; e daí inútil/ a
agitação dos dedos na intimidade do texto -/...// O meu amor anda
por dentro do silêncio a formular loucuras/ com a nudez do teu nome
- é um fantasma que estrebucha/ no dédalo das veias e sangra
quando o encerram em metáforas/...» (pág. 18). De espaço possível
à existência do amor, alternativa e prolongamento à «memória
das coisas por vir», unem-se nos versos passado e futuro, tentando
escamotear um presente de morte: «Devo por isso afastar-me de ti -
não/ por ter medo de morrer (que é de já não/ o ter que tenho
medo), mas porque a chuva/ que devora as esquinas é a única canção/
que se ouve esta noite sobre o teu silêncio» (pág. 32).
Um
belíssimo livro de versos a confirmar a maturidade da poesia de
Maria do Rosário Pedreira.
HELENA
BARBAS
no
EXPRESSO, Cartaz, de 28-4-2001
| |
|
Microfísica
do Amor
Em
"O Canto do Vento nos Ciprestes", de Maria do Rosário
Pedreira, os poemas repetem, cada um, a irreparável dor amorosa, a
irreparável espera feminina por algo que não cessa de não chegar.
"O Canto do Vento
nos Ciprestes", segundo livro de poesia de Maria do Rosário
Pedreira, relança a delicadeza lírica do anterior ("A Casa e
o Pó dos Livros", 1998), a pouco e pouco aqui desenganada. É
que a partir de certa altura "os degraus só se podem
descer".
Habitualmente,
na poesia lírica o sujeito que enuncia existe, ou constitui-se,
enquanto sensitividade momentânea, epifania local de uma emoção
contigente, de uma impressão que o próprio poema conclui.
Habitualmente também, o "tu" emerge apenas no contexto de
uma experiência lírica particular, dissipa-se no fim de cada
poema, e, ao contrário do romance, não lhe costuma ser
ficcionalizada uma substância, nem um enredo, nem sequer simulada a
duração de personagem.
É
claro que aqui se repete a tensão, que escapa à dialéctica, entre
o singular e o universal, e que cada poema se situa no equilíbrio
frágil entre a contingência e o que se exclui ao tempo. Mas, para
além disso, ou mais do que isso, neste livro, sob o mesmo "ethos"
detecta-se estranhamente uma história (por isso deve ser lido de
fio a pavio e não aleatoriamente, como tantas vezes se faz com a
poesia). A inscrição no tempo deste sujeito que enuncia
liricamente um amor, a sequencialidade de um mesmo amor,
transporta-nos para o universo da ficção, da simulação de
identidades psicológicas mais ou menos estáveis deste eu e deste
tu, capazes de serem percebidos quase como personagens. Mas, ao
mesmo tempo, uma poética intemporal do próprio amor se vai
desenhando, insistindo sempre, tantas vezes em belíssimos versos no
fim de cada poema (eles próprios, se isolados, poderiam constituir
títulos de uma sequência narrativa). À medida que se lê este
livro, dois versos de Ruy Belo ecoam, tornam-se quase o seu emblema:
"é triste no outono concluir/ que era o verão a única estação".
"O
verão desarruma os sentimentos". "Nesse Verão"
(porque o discurso simula escrever-se a partir de um
"agora" textual muito mais disfórico), o imaginário do
amor e da natureza animizada que o suporta era ainda expansivo,
solar, febril, inflamado e contagiante. Embora sobre ele pairassem
"sempre brumas e nevoeiros/ e profecias de temporais
maiores", "um temor que desmaia as pregas do vestido e um
sortilégio/ urdido nas paisagens suspensas de um mapa que aperto/
na mão sem desdobrar." Mesmo assim, "quando na tua boca
cantou subitamente uma voz", o dia emudeceu e "então, foi
possível ouvir o vento soprar nas asas das borboletas", "é
no momento que encerra a beleza de um gesto/ que se prolonga a
vida". O curso dos dias interrompe-se, o instante suspenso
reencontra a eternidade, e "pode pintar-se o retrato do vento/
no esquadro da janela". Nesse tempo, que se encena como
anterior, o amor não podia ainda ser dito, "nenhum poema/
podia ser o chão da sua casa", "há coisas assim,/ que não
se rendem à geometria deste mundo". Só a partir da ausência
(da dor?) se escreve. Nos poemas que se sucedem, uma mesma
impossibilidade amorosa se repete e adensa, uma mesma disforia se
vai estendendo. Como se se tratasse de um fio constante que se
expande e diversifica através de deslizes elementares, variações
incessantemente contíguas (por isso, talvez, a metonímia seja uma
das figuras emblemáticas da autora), desvios sintácticos de
palavras num só verso que surpreendem a normatividade semântica.
E, nesse fio aparentemente contínuo e idêntico em que se vai
desenrolando e intensificando uma história, suspendem-se
microscopicamente momentos mínimos de perfeição verbal
(irresistivelmente: "tenho os olhos azuis de tanto os ter lançado
ao mar"; "talvez procure ainda um gesto teu nos braços").
"Neste
outono", tu começaste a partir e no meu corpo começaram a
gelar os lugares de onde a tua mão se ausentou. Escreve-se a
efemeridade do amor. A natureza vai-se animizando de um modo cada
vez mais agreste ou recolhido. Repete-se todo um imaginário do
"eu", do amor e do mundo nocturno, frio, térreo,
rasteiro, a desabar ou em rarefacção, do lado do peso e da queda:
"as pedras agasalham-se no cobertor/do musgo"e o vento
passou a viajar "rente aos muros", e "se te pergunto
o caminho(...)/Contas que a noite geme nas fendas/dos penhascos
porque as cidades apodrecem junto/às margens; que o vento é um
chicote que desaba/os chapéus; que a terra treme; que o nevoeiro
cega; e/ que as casas onde o medo se extinguia na longa bainha
do/vestido da mãe cederam ao peso das mádoas dentro delas" e
ainda "que não há/mapas para os sonhos de quem morre de
amor." O eu produz cenários da sua própria morte e da morte
do outro ("a morte separa-nos da dor e da sua memória").
Aliás, ao longo destes poemas, o sujeito que enuncia torna-se
sujeito do seu próprio luto. Multiplica figuras do desdobramento em
que o eco, o sonho, apenas o teu nome ("como um músculo
tenso/escondido sob a pele") ou o espelho lhe devolvem a
identidade, tal como uma voz que se continua depois da morte lhe
restitui a eternidade.
Recorrente
e renovadamente, a escrita fala de si e da existência que, através
dela, o destinatário textual destes versos guarda. Porque "o
poema é o único refúgio onde/ podemos repetir o lume dos antigos
encontros" e a "tua sombra", ou "o teu silêncio",
ou os teus despojos mantêm acesa uma ideia de amor assim (impossível
não relembrar David Mourão-Ferreira - "Nas teias da ficção
ficarás presa/e acordarás, mais tarde, na surpresa/de ser outra
por toda a eternidade").
MARIA
DA CONCEIÇÃO CALEIRO
no
PÚBLICO, MIL FOLHAS, Sábado,
7 de Abril de 2001
|
|
|

MARIA DO ROSÁRIO
PEDREIRA (N. 1959) estreou-se no domínio da poesia em 1996, com o notável “A
casa e o cheiro dos livros”, um começo invulgar que levou a que o volume se
esgotasse (para quando a reedição?). Também autora de livros infantis de sucesso
e editora de gosto impecável, regressa agora à poesia com “O Canto do Vento nos
Ciprestes”, que não desmerece a estreia e confirma a sua relevância entre os
novos poetas. Se o livro anterior a revelava como uma espécie de Cesário dos
interiores (das casas), neste acentua-se a faceta do que não podemos realmente
chamar ultra-romantismo mas que empresta aos sentimentos uma notória
grandiloquência, mesmo se – esse é o grande paradoxo desta poesia – é uma
grandiloquência sussurrada. Numa palavra, não é apenas um livro sobre o amor: é
um livro sobre morrer de amor.
Escritos numa sequência que é, do ponto de vista estrutural (que não imagético)
cinematográfica, estes poemas, quase todos de um certo fôlego, dão voz à mulher
antes, depois ou para além do amor, mas nunca no momento amoroso propriamente
dito. O que existe é sempre a espera, a ausência, o temor, a solidão, a memória,
o abandono.
O meu mundo tem
estado à tua espera; mas
não há flores nas
jarras, nem velas sobre a mesa,
nem retratos
escondidos no fundo das gavetas. Sei
que um poema se
escreveria entre nós dois; mas
não comprei o
vinho, não mudei os lençóis,
não perfumei o
decote do vestido.
Se ouço falar de
ti, comove-me o teu nome
(mas nem pensar em
suspirá-lo ao teu ouvido);
se me dizem que
vens, o corpo é uma fogueira –
estalam-me brasas
no peito, desvairadas, e respiro
com a violência de
um incêndio; mas parto
antes de saber
como seria. Não me perguntes
porque se mata o
sol na lâmina dos dias
e o meu mundo
continua à tua espera:
houve sempre
coisas de esguelha nas paisagens
e amores
imperfeitos – Deus tem as mãos grandes”. (pág. 13)
É um livro
extremamente pudico e extremamente doloroso, feito de vestígios e de uma
fragilidade extrema, que no entanto nunca se entrega ao nosso voyeurismo. O que
vale acima de tudo nesta poesia é o ser íntima sem ser confessional.
Não é
de qualquer amor que se fala, mas de um amor concreto (“este amor”), de um amor
único que nada tem a ver com os outros amores, meramente carnais. A intensidade
desse sentimento, sobretudo aliado à decepção e à quase perda de sentido da
vida, lembra por vezes o imaginário das “Cartas Portuguesas”, mas tal como nesse
clássico sentimental, há uma certa dignidade que não descamba no melodrama nem
na lamechice, com duas ou três excepções menores. Quase todos os poemas são
construídos com base numa fluida acumulação de “topoi” amorosos, recorrentes: do
corpo (coração, dedos), da natureza (noites, verão, aves, mar) e das casas
(quartos, cama, livros, retratos). Muitas das situações são também clássicas,
como as várias albas, poemas em que os amantes de despedem de manhã, outras não
são biograficamente reais mas apenas dramatizações que provam como, mesmo levado
a extremos, o amor sobreviveria. É nesse contexto que surge a morte, de tal modo
presente que a autora já confessou que alguns leitores confundiram os poemas com
elegias; na verdade, se em meia-dúzia de poemas há a presença da doença e da
morte reais de um terceiro, na verdade, a morte aparece quase sempre não
exactamente como uma metáfora mas como uma exasperação do sentimento amoroso; é
mesmo esse o grande tema do livro, sendo que a certa altura se afirma
“quando morrer de amor
não
tinha ainda perdido o efémero estatuto de metáfora”. (pág. 42).
Mas
“morrer de amor” metaforicamente ou não, é um extremo que não caracteriza bem o
sentimento amoroso; ele vive sobretudo na (ou da) instabilidade, na precaridade,
na insegurança. Como não é o amor consumado e feliz que Maria do Rosário
Pedreira aborda, estes poemas estão pejados de desolação, medo, ameaças,
pressentimentos. Há um poema com este verso: “Eu não sabia que todas as noites
do mundo eram efémeras” (pág. 24), enquanto o poema seguinte, que começa “Se
partires, não me abraces” termina com “”Se me abraçares, não partas”. É a
“doença do amor” que agrega todos estes sentimentos difusos; esta é, aliás, uma
poesia dos sentimentos, da fragilidade tanto do sujeito como do mundo (como no
conhecido poema de Sophia de Mello Breyner). É também uma poesia de ternura: o
erotismo aqui não tem autonomia, e se a expressão “fazer amor” é recorrente é
porque em si mesma transporta um sentido de complemento face ao sentimento
amoroso. A ternura aqui é como o lenço de seda atado de um poema de Herberto, em
que é a própria seda que desata o laço. O modo como a ternura se expressa é
através de uma dedicação sincera mas também ritualizada, aqui e além, na
tradição sacramental do “Cântico dos Cânticos”. É uma atenção minuciosa,
incondicional, ao ser amado, sem calculismos nem cinismo, o que torna este livro
uma raridade.
“(.......................................................…) Se
hoje vieres por
esse livro que deixaste (e cuja
lombada acariciei
todos os dias que durou a tua
ausência como uma
nesga de sol acaricia um
rosto no Inverno),
encontrarás a sopa a fumegar
na mesa, e a
camisa engomada no cabide, e os
lençois da cama
imaculados, e um corpo pronto
para qualquer
aventura – e ainda o cão deitado
à porta, à tua
espera, como na véspera de partires.
Porque os anos não
contam para quem assim ama. (Pág. 67)
Alguns acharão
isto submissão, sem perceber que os gestos são símbolos de gestos maiores (na
verdade, este poema lembra o tão diferente “Caso do Vestido” de Drummond de
Andrade). Em resposta a esse amor o sujeito poético tem apenas despojos, os
lugares, “uma colcha amarrotada”. E tem, claro, o poema: se por um lado o amor
não se deixa exprimir nem aprisionar no poema, este é um refúgio e também uma
reconstrução do mundo: “não estarias aqui se eu não escrevesse”. O livro acumula
poderosas imagens de tristeza: “uma escarpa pronta a desabar”, “os degraus só se
podem descer”, “o verão desarruma os sentimentos”, “há coisas que uma mala nunca
leva”.
O vento que canta
nos ciprestes (árvore fúnebre) é como o espírito que sopra onde quer e onde nós
queremos.
“Quero falar-te
deste amor, como de um vento
amordaçado na
camisa; uma febre de verão
que o mercúrio não
acha; um telhado esmagado
pela ideia da
chuva. (…) (Pág. 14)
E para quem tenha
dúvidas, vale a pena remeter para dois poemas longos demais para citar aqui: o
lancinante poema da página 56 sobre morrer e escrever e o extraordinário poema
final, “Anima Mundi” (pág. 71). O “medo da tragédia” de que a a autora fala, é
apenas o medo de se dizer o que à partida se sabe ser trágico, e por isso
enorme. A “mais pequena história do mundo” que este livro se propõe contar é,
afinal, a maior história do mundo.
Pedro Mexia

Sobre o mais
recente dos seus livros de poesia – O Canto do Vento nos Ciprestes –
Maria do Rosário Pedreira (n. 1959), manifestou o desejo de que ele fosse lido
como um minirromance (cfr. entrevista concedida a Ana Marques Gastão, Diário
de Notícias, 2-5-2001). Percebe-se porquê. Nestes poemas, o recorte elegíaco
fixa o plot com nitidez:
“Na tua boca
cantou subitamente uma voz.
E, ao dizeres o
meu nome na rede de um abraço,
o rio que outrora
bordava o campo emudeceu (…)
São assim as mais
pequenas histórias do mundo.” (pág. 15)
E a trama
narrativa sai reforçada com a exactidão denotativa:
“Dei-te o meu
corpo como quem estende
um mapa
antes da viagem […]
Mas, afinal, foste
tu que desenhaste mapas
nas minhas mãos –
tristes geografias,
labirintos de
razões improváveis, tão curtas
linhas que a minha
vida não teve tempo
senão para
pressentir-se. Por isso guardo
dos teus gestos
apenas conjecturas, sombras,
muros e regressos
– nem sequer feridas
ou ruínas. E,
ainda assim, sem eu saber porquê,
as ondas ameaçam o
lago dos meus olhos.” (pág. 30)
Com efeito,
nenhuma espécie de maneirismo perturba estes versos exemplares:
“Pudesse eu morrer
hoje como tu me morreste nessa noite –
[……………………………………………..] e pudesse
eu deixar de
escrever nesta manhã, o dia treme na linha,
dos telhados, a
vida hesita tanto, e pudesse eu morrer,
mas ouço-te a
respirar no meu poema.” (pág. 56)
Por outro lado, o
desassombro com que Maria do Rosário Pedreira põe em cena a voz do EU não deve
confundir-se com psicologismo:
“Se alguém me
perguntar, hei-de dizer que sim, que foi
verdade – […]
Se alguém me
perguntar, nada desmentirei, nem negarei
que os frutos
todos que me deram a provar na tua ausência
me pareceram
demasiado azedos ao pé dos que explodiam
em sumo nos teus
lábios; […]
Trata-se de
focalização omnisciente – isto é, representação narrativa do fio da intriga - ,
registo que a autora domina com segurança, mesmo quando, como acontece no poema
final, apenas sobram estilhaços da história:
“Atropelam-se os
rios em demanda do mar; vergam-se
as costas ao
chicote das ondas. Os espinheiros
que crescem sobre
as dunas iniciam as aves
nas punições do
mundo. Quem se encosta
ao ombro
descarnado da falésia vê o fantasma
da morte
acenar-lhe do abismo; e o mesmo sol
que ofende os
muros em ruínas e açoita os pontões
humilha os deuses
e desafia os homens. Por isso,
[…] iludindo a
arquitectura da luz, espreitou
impunemente no
decote do mundo e lhe arrancou a alma.” (pág. 71).
À laia de
conclusão, não me parece excessivo afirmar que O Canto do Vento nos Ciprestes é
um livro singular no contexto da poesia portuguesa mais recente.
de O Som & o
Sentido, de Eduardo Pitta –
LER
n.º 52, Outono de 2001.