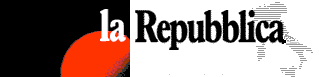
Bisogna ricordare che fa parte della cultura occidentale
anche Hitler che bruciava i libri e condannava l'arte degenerata
Le guerre sante
passione e ragione
di UMBERTO ECO
Che
qualcuno abbia, nei giorni scorsi, pronunciato parole inopportune sulla
superiorità della cultura occidentale, sarebbe un fatto secondario. E'
secondario che qualcuno dica una cosa che ritiene giusta ma nel momento
sbagliato, ed è secondario che qualcuno creda a una cosa ingiusta o comunque
sbagliata, perché il mondo è pieno di gente che crede a cose ingiuste e
sbagliate, persino un signore che si chiama Bin Laden, che forse è più ricco
del nostro presidente del Consiglio e ha studiato in migliori università.
Quello che non è secondario, e che deve preoccupare un poco tutti, politici,
leader religiosi, educatori, è che certe espressioni, o addirittura interi e
appassionati articoli che in qualche modo le hanno legittimate, diventino
materia di discussione generale, occupino la mente dei giovani, e magari li
inducano a conclusioni passionali dettate dall'emozione del momento. Mi
preoccupo dei giovani perché tanto, ai vecchi, la testa non la si cambia
più.
Tutte le guerre di religione che hanno insanguinato il mondo per secoli sono
nate da adesioni passionali a contrapposizioni semplicistiche, come Noi e
gli Altri, buoni e cattivi, bianchi e neri. Se la cultura occidentale si è
dimostrata feconda (non solo dall'Illuminismo a oggi ma anche prima, quando
il francescano Ruggero Bacone invitava a imparare le lingue perché abbiamo
qualcosa da apprendere anche dagli infedeli) è anche perché si è sforzata di
"sciogliere", alla luce dell'indagine e dello spirito critico, le
semplificazioni dannose. Naturalmente non lo ha fatto sempre, perché fanno
parte della storia della cultura occidentale anche Hitler, che bruciava i
libri, condannava l' arte "degenerata", uccideva gli appartenenti alle razze
"inferiori", o il fascismo che mi insegnava a scuola a recitare "Dio
stramaledica gli inglesi" perché erano "il popolo dei cinque pasti" e dunque
dei ghiottoni inferiori all'italiano parco e spartano.
Ma sono gli aspetti migliori della nostra cultura quelli che dobbiamo
discutere coi giovani, e di ogni colore, se non vogliamo che crollino nuove
torri anche nei giorni che essi vivranno dopo di noi. Un elemento di
confusione è che spesso non si riesce a cogliere la differenza tra
l'identificazione con le proprie radici, il capire chi ha altre radici e il
giudicare ciò che è bene o male. Quanto a radici, se mi chiedessero se
preferirei passare gli anni della pensione in un paesino del Monferrato,
nella maestosa cornice del parco nazionale dell'Abruzzo o nelle dolci
colline del senese, sceglierei il Monferrato. Ma ciò non comporta che
giudichi altre regioni italiane inferiori al Piemonte.
Quindi se, con le sue parole (pronunciate per gli occidentali ma cancellate
per gli arabi), il presidente del Consiglio voleva dire che preferisce
vivere ad Arcore piuttosto che a Kabul, e farsi curare in un ospedale
milanese piuttosto che in uno di Bagdad, sarei pronto a sottoscrivere la sua
opinione (Arcore a parte). E questo anche se mi dicessero che a Bagdad hanno
istituito l'ospedale più attrezzato del mondo: a Milano mi troverei più a
casa mia, e questo influirebbe anche sulle mie capacità di ripresa. Le
radici possono essere anche più ampie di quelle regionali o nazionali.
Preferirei vivere a Limoges, tanto per dire, che a Mosca. Ma come, Mosca non
è una città bellissima? Certamente, ma a Limoges capirei la lingua. Insomma,
ciascuno si identifica con la cultura in cui è cresciuto e i casi di
trapianto radicale, che pure ci sono, sono una minoranza. Lawrence d'Arabia
si vestiva addirittura come gli arabi, ma alla fine è tornato a casa
propria.
Passiamo ora al confronto di civiltà, perché è questo il punto. L'Occidente,
sia pure e spesso per ragioni di espansione economica, è stato curioso delle
altre civiltà. Molte volte le ha liquidate con disprezzo: i greci chiamavano
barbari, e cioè balbuzienti, coloro che non parlavano la loro lingua e
dunque era come se non parlassero affatto. Ma dei greci più maturi come gli
stoici (forse perché alcuni di loro erano di origine fenicia) hanno ben
presto avvertito che i barbari usavano parole diverse da quelle greche, ma
si riferivano agli stessi pensieri. Marco Polo ha cercato di descrivere con
grande rispetto usi e costumi cinesi, i grandi maestri della teologia
cristiana medievale cercavano di farsi tradurre i testi dei filosofi, medici
e astrologi arabi, gli uomini del Rinascimento hanno persino esagerato nel
loro tentativo di ricuperare perdute saggezze orientali, dai Caldei agli
Egizi, Montesquieu ha cercato di capire come un persiano potesse vedere i
francesi, e antropologi moderni hanno condotto i loro primi studi sui
rapporti dei salesiani, che andavano sì presso i Bororo per convertirli, se
possibile, ma anche per capire quale fosse il loro modo di pensare e di
vivere forse memori del fatto che missionari di alcuni secoli prima non
erano riusciti a capire le civiltà amerindie e ne avevano incoraggiato lo
sterminio.
Ho nominato gli antropologi. Non dico cosa nuova se ricordo che, dalla metà
del XIX secolo in avanti, l'antropologia culturale si è sviluppata come
tentativo di sanare il rimorso dell'Occidente nei confronti degli Altri, e
specialmente di quegli Altri che erano definiti selvaggi, società senza
storia, popoli primitivi. L'Occidente coi selvaggi non era stato tenero: li
aveva "scoperti", aveva tentato di evangelizzarli, li aveva sfruttati, molti
ne aveva ridotto in schiavitù, tra l'altro con l'aiuto degli arabi, perché
le navi degli schiavi venivano scaricate a New Orleans da raffinati
gentiluomini di origine francese, ma stivate sulle coste africane da
trafficanti musulmani. L'antropologia culturale (che poteva prosperare
grazie all'espansione coloniale) cercava di riparare ai peccati del
colonialismo mostrando che quelle culture "altre" erano appunto delle
culture, con le loro credenze, i loro riti, le loro abitudini,
ragionevolissime del contesto in cui si erano sviluppate, e assolutamente
organiche, vale a dire che si reggevano su una loro logica interna. Il
compito dell'antropologo culturale era di dimostrare che esistevano delle
logiche diverse da quelle occidentali, e che andavano prese sul serio, non
disprezzate e represse.
Questo non voleva dire che gli antropologi, una volta spiegata la logica
degli Altri, decidessero di vivere come loro; anzi, tranne pochi casi,
finito il loro pluriennale lavoro oltremare se ne tornavano a consumare una
serena vecchiaia nel Devonshire o in Piccardia. Però leggendo i loro libri
qualcuno potrebbe pensare che l'antropologia culturale sostenga una
posizione relativistica, e affermi che una cultura vale l'altra. Non mi pare
sia così. Al massimo l'antropologo ci diceva che, sino a che gli Altri se ne
stavano a casa propria, bisognava rispettare il loro modo di vivere.
La vera lezione che si deve trarre dall'antropologia culturale è piuttosto
che, per dire se una cultura è superiore a un'altra, bisogna fissare dei
parametri. Un conto è dire che cosa sia una cultura e un conto dire in base
a quali parametri la giudichiamo. Una cultura può essere descritta in modo
passabilmente oggettivo: queste persone si comportano così, credono negli
spiriti o in un'unica divinità che pervade di sé tutta la natura, si
uniscono in clan parentali secondo queste regole, ritengono che sia bello
trafiggersi il naso con degli anelli (potrebbe essere una descrizione della
cultura giovanile in Occidente), ritengono impura la carne di maiale, si
circoncidono, allevano i cani per metterli in pentola nei dì festivi o, come
ancor dicono gli americani dei francesi, mangiano le rane.
L'antropologo ovviamente sa che l'obiettività viene sempre messa in crisi da
tanti fattori. L'anno scorso sono stato nei paesi Dogon e ho chiesto a un
ragazzino se fosse musulmano. Lui mi ha risposto, in francese, "no, sono
animista". Ora, credetemi, un animista non si definisce animista se non ha
almeno preso un diploma alla Ecole des Hautes Etudes di Parigi, e quindi
quel bambino parlava della propria cultura così come gliela avevano definita
gli antropologi. Gli antropologi africani mi raccontavano che quando arriva
un antropologo europeo i Dogon, ormai scafatissimi, gli raccontano quello
che aveva scritto tanti anni fa un antropologo, Griaule (al quale però, così
almeno asserivano gli amici africani colti, gli informatori indigeni avevano
raccontato cose abbastanza slegate tra loro che poi lui aveva riunito in un
sistema affascinante ma di dubbia autenticità). Tuttavia, fatta la tara di
tutti i malintesi possibili di una cultura
altra si può avere una descrizione abbastanza "neutra". I parametri di
giudizio sono un'altra cosa, dipendono dalle nostre radici, dalle nostre
preferenze, dalle nostre abitudini, dalle nostre passioni, da un nostro
sistema di valori. Facciamo un esempio. Riteniamo noi che il prolungare la
vita media da quaranta a ottant'anni sia un valore? Io personalmente lo
credo, però molti mistici potrebbero dirmi che, tra un crapulone che campa
ottant'anni e san Luigi Gonzaga che ne campa ventitré, è il secondo che ha
avuto una vita più piena. Ma ammettiamo che l'allungamento della vita sia un
valore: se è così la medicina e la scienza occidentale sono certamente
superiori a molti altri saperi e pratiche mediche.
Crediamo che lo sviluppo tecnologico, l'espansione dei commerci, la rapidità
dei trasporti siano un valore? Moltissimi la pensano così, e hanno diritto
di giudicare superiore la nostra civiltà tecnologica. Ma, proprio
all'interno del mondo occidentale, ci sono coloro che reputano valore
primario una vita in armonia con un ambiente incorrotto, e dunque sono
pronti a rinunciare ad aerei, automobili, frigoriferi, per intrecciare
canestri e muoversi a piedi di villaggio in villaggio, pur di non avere il
buco dell'ozono. E dunque vedete che, per definire una cultura migliore
dell'altra, non basta descriverla (come fa l'antropologo) ma occorre il
richiamo a un sistema di valori a cui riteniamo di non potere rinunciare.
Solo a questo punto possiamo dire che la nostra cultura, per noi, è
migliore.
In questi giorni si è assistito a varie difese di culture diverse in base a
parametri discutibili. Proprio l'altro giorno leggevo una lettera a un
grande quotidiano dove si chiedeva sarcasticamente come mai i premi Nobel
vanno solo agli occidentali e non agli orientali. A parte il fatto che si
trattava di un ignorante che non sapeva quanti premi Nobel per la
letteratura sono andati a persone di pelle nera e a grandi scrittori
islamici, a parte che il premio Nobel per la fisica del 1979 è andato a un
pakistano che si chiama Abdus Salam, affermare che riconoscimenti per la
scienza vanno naturalmente a chi lavora nell'ambito della scienza
occidentale è scoprire l'acqua calda, perché nessuno ha mai messo in dubbio
che la scienza e la tecnologia occidentali siano oggi all'avanguardia.
All'avanguardia di cosa? Della scienza e della tecnologia. Quanto è assoluto
il parametro dello sviluppo tecnologico? Il Pakistan ha la bomba atomica e
l'Italia no. Dunque noi siamo una civiltà inferiore? Meglio vivere a
Islamabad che ad Arcore?
I sostenitori del dialogo ci richiamano al rispetto del mondo islamico
ricordando che ha dato uomini come Avicenna (che tra l'altro è nato a
Buchara, non molto lontano dall'Afghanistan) e Averroè - ed è un peccato che
si citino sempre questi due, come fossero gli unici, e non si parli di Al
Kindi, Avenpace, Avicebron, Ibn Tufayl, o di quel grande storico del XIV
secolo che fu Ibn Khaldun, che l'Occidente considera addirittura
l'iniziatore delle scienze sociali. Ci ricordano che gli arabi di Spagna
coltivavano geografia, astronomia, matematica o medicina quando nel mondo
cristiano si era molto più indietro. Tutte cose verissime, ma questi non
sono argomenti, perché a ragionare così si dovrebbe dire che Vinci, nobile
comune toscano, è superiore a New York, perché a Vinci nasceva Leonardo
quando a Manhattan quattro indiani stavano seduti per terra ad aspettare per
più di centocinquant'anni che arrivassero gli olandesi a comperargli
l'intera penisola per ventiquattro dollari. E invece no, senza offesa per
nessuno, oggi il centro del mondo è New York e non Vinci.
Le cose cambiano. Non serve ricordare che gli arabi di Spagna erano assai
tolleranti con cristiani ed ebrei mentre da noi si assalivano i ghetti, o
che il Saladino, quando ha riconquistato Gerusalemme, è stato più
misericordioso coi cristiani di quanto non fossero stati i cristiani con i
saraceni quando Gerusalemme l'avevano conquistata. Tutte cose esatte, ma nel
mondo islamico ci sono oggi regimi fondamentalisti e teocratici che i
cristiani non li tollerano e Bin Laden non è stato misericordioso con New
York. La Battriana è stato un incrocio di grandi civiltà, ma oggi i talebani
prendono a cannonate i Buddha. Di converso, i francesi hanno fatto il
massacro della Notte di San Bartolomeo, ma questo non autorizza nessuno a
dire che oggi siano dei barbari.
Non andiamo a scomodare la storia perché è un'arma a doppio taglio. I turchi
impalavano (ed è male) ma i bizantini ortodossi cavavano gli occhi ai
parenti pericolosi e i cattolici bruciavano Giordano Bruno; i pirati
saraceni ne facevano di cotte e di crude, ma i corsari di sua maestà
britannica, con tanto di patente, mettevano a fuoco le colonie spagnole nei
carabi; Bin Laden e Saddam Hussein sono nemici feroci della civiltà
occidentale, ma all'interno della civiltà occidentale abbiamo avuto signori
che si chiamavano Hitler o Stalin (Stalin era così cattivo che è sempre
stato definito come orientale, anche se aveva studiato in seminario e letto
Marx).
No, il problema dei parametri non si pone in chiave storica, bensì in chiave
contemporanea. Ora, una delle cose lodevoli delle culture occidentali
(libere e pluralistiche, e questi sono i valori che noi riteniamo
irrinunciabili) è che si sono accorte da gran tempo che la stessa persona
può essere portata a manovrare parametri diversi, e mutuamente
contraddittori, su questioni differenti. Per esempio si reputa un bene
l'allungamento della vita e un male l'inquinamento atmosferico, ma
avvertiamo benissimo che forse, per avere i grandi laboratori in cui si
studia l'allungamento della vita, occorre avere un sistema di comunicazioni
e rifornimento energetico che poi, dal canto proprio, produce
l'inquinamento. La cultura occidentale ha elaborato la capacità di mettere
liberamente a nudo le sue proprie contraddizioni.
Magari non le risolve, ma sa che ci sono, e lo dice. In fin dei conti tutto
il dibattito su globale-sì e globale-no sta qui, tranne che per le tute nere
spaccatutto: come è sopportabile una quota di globalizzazione positiva
evitando i rischi e le ingiustizie della globalizzazione perversa, come si
può allungare la vita anche ai milioni di africani che muoiono di Aids (e
nel contempo allungare anche la nostra) senza accettare una economia
planetaria che fa morire di fame gli ammalati di Aids e fa ingoiare cibi
inquinati a noi?
Ma proprio questa critica dei parametri, che l'Occidente persegue e
incoraggia, ci fa capire come la questione dei parametri sia delicata. E'
giusto e civile proteggere il segreto bancario? Moltissimi ritengono di sì.
Ma se questa segretezza permette ai terroristi di tenere i loro soldi nella
City di Londra? Allora, la difesa della cosiddetta privacy è un valore
positivo o dubbio? Noi mettiamo continuamente in discussione i nostri
parametri. Il mondo occidentale lo fa a tal punto che consente ai propri
cittadini di rifiutare come positivo il parametro dello sviluppo tecnologico
e di diventare buddisti o di andare a vivere in comunità dove non si usano i
pneumatici, neppure per i carretti a cavalli. La scuola deve insegnare ad
analizzare e discutere i parametri su cui si reggono le nostre affermazioni
passionali.
Il problema che l'antropologia culturale non ha risolto è cosa si fa quando
il membro di una cultura, i cui principi abbiamo magari imparato a
rispettare, viene a vivere in casa nostra. In realtà la maggior parte delle
reazioni razziste in Occidente non è dovuta al fatto che degli animisti
vivano nel Mali (basta che se ne stiano a casa propria, dice infatti la
Lega), ma che gli animisti vengano a vivere da noi. E passi per gli animisti,
o per chi vuole pregare in direzione della Mecca, ma se vogliono portare il
chador, se vogliono infibulare le loro ragazze, se (come accade per certe
sette occidentali) rifiutano le trasfusioni di sangue ai loro bambini
ammalati, se l'ultimo mangiatore d'uomini della Nuova Guinea (ammesso che ci
sia ancora) vuole emigrare da noi e farsi arrosto un giovanotto almeno ogni
domenica?
Sul mangiatore d'uomini siamo tutti d'accordo, lo si mette in galera (ma
specialmente perché non sono un miliardo), sulle ragazze che vanno a scuola
col chador non vedo perché fare tragedie se a loro piace così, sulla
infibulazione il dibattito è invece aperto (c'è persino chi è stato così
tollerante da suggerire di farle gestire dalle unità sanitarie locali, così
l'igiene è salva), ma cosa facciamo per esempio con la richiesta che le
donne musulmane possano essere fotografate sul passaporto col velo? Abbiamo
delle leggi, uguali per tutti, che stabiliscono dei criteri di
identificazione dei cittadini, e non credo si possa deflettervi. Io quando
ho visitato una moschea mi sono tolto le scarpe, perché rispettavo le leggi
e le usanze del paese ospite. Come la mettiamo con la foto velata?
Credo che in questi casi si possa negoziare. In fondo le foto dei passaporti
sono sempre infedeli e servono a quel che servono, si studino delle tessere
magnetiche che reagiscono all'impronta del pollice, chi vuole questo
trattamento privilegiato ne paghi l'eventuale sovrapprezzo. E se poi queste
donne frequenteranno le nostre scuole potrebbero anche venire a conoscenza
di diritti che non credevano di avere, così come molti occidentali sono
andati alle scuole coraniche e hanno deciso liberamente di farsi musulmani.
Riflettere sui nostri parametri significa anche decidere che siamo pronti a
tollerare tutto, ma che certe cose sono per noi intollerabili.
L'Occidente ha dedicato fondi ed energie a studiare usi e costumi degli
Altri, ma nessuno ha mai veramente consentito agli Altri di studiare usi e
costumi dell'Occidente, se non nelle scuole tenute oltremare dai bianchi, o
consentendo agli Altri più ricchi di andare a studiare a Oxford o a Parigi -
e poi si vede cosa succede, studiano in Occidente e poi tornano a casa a
organizzare movimenti fondamentalisti, perché si sentono legati ai loro
compatrioti che quegli studi non li possono fare (la storia è peraltro
vecchia, e per l'indipendenza dell'India si sono battuti intellettuali che
avevano studiato con gli inglesi).
Antichi viaggiatori arabi e cinesi avevano studiato qualcosa dei paesi dove
tramonta il sole, ma sono cose di cui sappiamo abbastanza poco. Quanti
antropologi africani o cinesi sono venuti a studiare l'Occidente per
raccontarlo non solo ai propri concittadini, ma anche a noi, dico raccontare
a noi come loro ci vedono? Esiste da alcuni anni una organizzazione
internazionale chiamata Transcultura che si batte per una "antropologia
alternativa". Ha condotto studiosi africani che non erano mai stati in
Occidente a descrivere la provincia francese e la società bolognese, e vi
assicuro che quando noi europei abbiamo letto che due delle osservazioni più
stupite riguardavano il fatto che gli europei portano a passeggio i loro
cani e che in riva al mare si mettono nudi - beh, dico, lo sguardo reciproco
ha incominciato a funzionare da ambo le parti, e ne sono nate discussioni
interessanti.
In questo momento, in vista di un convegno finale che si svolgerà a
Bruxelles a novembre, tre cinesi, un filosofo, un antropologo e un artista,
stanno terminando il loro viaggio di Marco Polo alla rovescia, salvo che
anziché limitarsi a scrivere il loro Milione registrano e filmano. Alla fine
non so cosa le loro osservazioni potranno spiegare ai cinesi, ma so che cosa
potranno spiegare anche a noi. Immaginate che fondamentalisti musulmani
vengano invitati a condurre studi sul fondamentalismo cristiano (questa
volta non c'entrano i cattolici, sono protestanti americani, più fanatici di
un ayatollah, che cercano di espungere dalle scuole ogni riferimento a
Darwin). Bene, io credo che lo studio antropologico del fondamentalismo
altrui possa servire a capire meglio la natura del proprio. Vengano a
studiare il nostro concetto di guerra santa (potrei consigliare loro molti
scritti interessanti, anche recenti) e forse vedrebbero con occhio più
critico l'idea di guerra santa in casa loro. In fondo noi occidentali
abbiamo riflettuto sui limiti del nostro modo di pensare proprio descrivendo
la pensée sauvage.
Uno dei valori di cui la civiltà occidentale parla molto è l'accettazione
delle differenze. Teoricamente siamo tutti d'accordo, è politically correct
dire in pubblico di qualcuno che è gay, ma poi a casa si dice ridacchiando
che è un frocio. Come si fa a insegnare l'accettazione della differenza? L'Academie
Universelle des Cultures ha messo in linea un sito dove si stanno elaborando
materiali su temi diversi (colore, religione, usi e costumi e così via) per
gli educatori di qualsiasi paese che vogliano insegnare ai loro scolari come
si accettano coloro che sono diversi da loro. Anzitutto si è deciso di non
dire bugie ai bambini, affermando che tutti siamo uguali. I bambini si
accorgono benissimo che alcuni vicini di casa o compagni di scuola non sono
uguali a loro, hanno una pelle di colore diverso, gli occhi tagliati a
mandorla, i capelli più ricci o più lisci, mangiano cose strane, non fanno
la prima comunione. Né basta dirgli che sono tutti figli di Dio, perché
anche gli animali sono figli di Dio, eppure i ragazzi non hanno mai visto
una capra in cattedra a insegnargli l'ortografia. Dunque bisogna dire ai
bambini che gli esseri umani sono molto diversi tra loro, e spiegare bene in
che cosa sono diversi, per poi mostrare che queste diversità possono essere
una fonte di ricchezza.
Il maestro di una città italiana dovrebbe aiutare i suoi bambini italiani a
capire perché altri ragazzi pregano una divinità diversa, o suonano una
musica che non sembra il rock. Naturalmente lo stesso deve fare un educatore
cinese con bambini cinesi che vivono accanto a una comunità cristiana. Il
passo successivo sarà mostrare che c'è qualcosa in comune tra la nostra e la
loro musica, e che anche il loro Dio raccomanda alcune cose buone. Obiezione
possibile: noi lo faremo a Firenze, ma poi lo faranno anche a Kabul? Bene,
questa obiezione è quanto di più lontano possa esserci dai valori della
civiltà occidentale. Noi siamo una civiltà pluralistica perché consentiamo
che a casa nostra vengano erette delle moschee, e non possiamo rinunciarvi
solo perché a Kabul mettono in prigione i propagandisti cristiani. Se lo
facessimo diventeremmo talebani anche noi.
Il parametro della tolleranza della diversità è certamente uno dei più forti
e dei meno discutibili, e noi giudichiamo matura la nostra cultura perché sa
tollerare la diversità, e barbari quegli stessi appartenenti alla nostra
cultura che non la tollerano. Punto e basta. Altrimenti sarebbe come se
decidessimo che, se in una certa area del globo ci sono ancora cannibali,
noi andiamo a mangiarli così imparano. Noi speriamo che, visto che
permettiamo le moschee a casa nostra, un giorno ci siano chiese cristiane o
non si bombardino i Buddha a casa loro. Questo se crediamo nella bontà dei
nostri parametri.
Molta è la confusione sotto il cielo. Di questi tempi avvengono cose molto
curiose. Pare che difesa dei valori dell'Occidente sia diventata una
bandiera della destra, mentre la sinistra è come al solito filo islamica.
Ora, a parte il fatto che c'è una destra e c'è un cattolicesimo integrista
decisamente terzomondista, filoarabo e via dicendo, non si tiene conto di un
fenomeno storico che sta sotto gli occhi di tutti. La difesa dei valori
della scienza, dello sviluppo tecnologico e della cultura occidentale
moderna in genere è stata sempre una caratteristica delle ali laiche e
progressiste. Non solo, ma a una ideologia del progresso tecnologico e
scientifico si sono richiamati tutti i regimi comunisti. Il Manifesto del
1848 si apre con un elogio spassionato dell'espansione borghese; Marx non
dice che bisogna invertire la rotta e passare al modo di produzione
asiatico, dice solo che questi di questi valori e di questi successi si
debbono impadronire i proletari.
Di converso è sempre stato il pensiero reazionario (nel senso più nobile del
termine), almeno a cominciare col rifiuto della rivoluzione francese, che si
è opposto all'ideologia laica del progresso affermando che si deve tornare
ai valori della Tradizione. Solo alcuni gruppi neonazisti si rifanno a una
idea mitica dell'Occidente e sarebbero pronti a sgozzare tutti i musulmani a
Stonehenge. I più seri tra i pensatori della Tradizione (tra cui anche molti
che votano Alleanza Nazionale) si sono sempre rivolti, oltre che a riti e
miti dei popoli primitivi, o alla lezione buddista, proprio all'Islam, come
fonte ancora attuale di spiritualità alternativa. Sono sempre stati lì a
ricordarci che noi non siamo superiori, bensì inariditi dall'ideologia del
progresso, e che la verità dobbiamo andarla a cercare tra i mistici Sufi o
tra i dervisci danzanti. E queste cose non le dico io, le hanno sempre dette
loro. Basta andare in una libreria e cercare negli scaffali giusti.
In questo senso a destra si sta aprendo ora una curiosa spaccatura. Ma forse
è solo segno che nei momenti di grande smarrimento (e certamente viviamo uno
di questi) nessuno sa più da che parte sta. Però è proprio nei momenti di
smarrimento che bisogna sapere usare l'arma dell'analisi e della critica,
delle nostre superstizioni come di quelle altrui. Spero che di queste cose
si discuta nelle scuole, e non solo nelle conferenze stampa.
(5 ottobre 2001)
![]()
Guerras santas, paixão e razão
Que alguém tenha pronunciado, nos últimos dias, palavras inoportunas sobre a superioridade da cultura ocidental, seria um facto secundário. É secundário que alguém diga algo que considera justo, mas num momento errado, e é secundário que alguém acredite em algo injusto ou de qualquer modo, errado, porque o mundo está cheio de gente que acredita em coisas injustas e erradas, até mesmo um senhor que se chama Bin Laden, que é talvez mais rico do que o nosso Primeiro Ministro e estudou em melhores universidades. O que não é secundário e que nos deve preocupar um pouco a todos, políticos, líderes religiosos, educadores, é que certas expressões, ou mesmo inteiros e apaixonados artigos que de qualquer modo as legitimaram, se tornem matéria de discussão geral, ocupem a mente dos jovens e mesmo os levem a conclusão apaixonadas, ditadas pela emoção do momento. Preocupo-me com os jovens, porque, de qualquer modo, aos velhos, já não é possível mudar a cabeça.
Todas as guerras de religião que ensanguentaram o mundo durante séculos nasceram de adesões apaixonadas a contraposições simplicistas, como, por exemplo, Nós e os Outros, bons e maus, brancos e negros. Se a cultura ocidental se mostrou fecunda (não só desde o Iluminismo até hoje, mas também antes, quando o franciscano Ruggero Bacone incitava a aprender línguas porque temos qualquer coisa a aprender mesmo com os infiéis) é também porque se esforçou em “desfazer”, à luz da investigação e do espírito crítico, as simplificações prejudiciais. Naturalmente, nem sempre o fez, porque também fazem parte da cultura ocidental Hitler que queimava os livros, condenava a arte “degenerada”, liquidava os que pertenciam às “raças inferiores”, ou o fascismo que me ensinava na escola a recitar “Deus lance todas as maldições sobre os ingleses” porque eram o “povo das cinco refeições” e portanto glutões inferiores aos italianos, poupados e espartanos.
